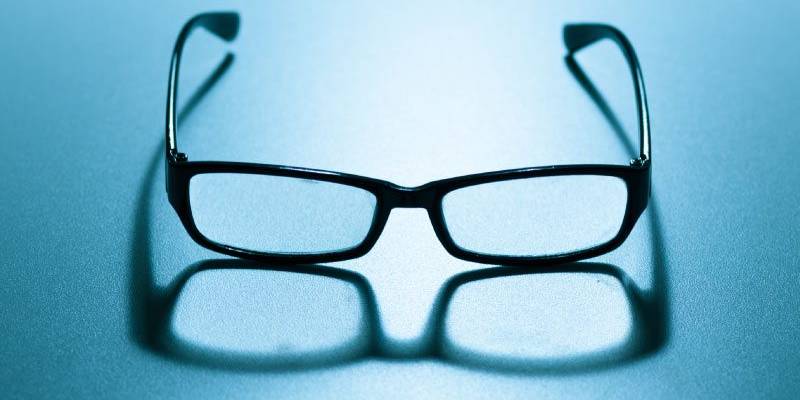Entrou no boteco manco e maltrapilho. Seu bafo exalava o fedor dos destilados de terceira linha que costumava beber. Um fio de baba escorria pelo canto de sua boca, misturando-se à barba espessa e sujismunda logo abaixo. Caminhou até o balcão arrastando uma das pernas e fazendo ecoar pelo pequeno ambiente, ritmadamente, o som seco da batida de sua bengala de apoio. Parou em frente ao atendente, um homem alto e gorducho dono de longa cabeleira loura amarrada sem cuidado atrás da cabeça. Suas mãos nodosas agarraram-se firmemente ao apoio da bengala. O pobre sentiu a vista falhar por um segundo.
– O de sempre, seu Jão? – Disse o loiro já pondo a mão na garrafa de pinga sobre o balcão. Seu Jão não respondeu. – Seu Jão? – Perguntou novamente o balconista, mas não obteve resposta.
O velho deveria ter já seus oitenta anos, barba cinzenta e cabelos de mesma cor – seriam brancos não fosse a sujeira – e era frequentador assíduo do bar da esquina. Todas as manhãs ele ali chegava, sentava-se sobre um dos bancos do balcão, pedia sua pinga, despejava o gole pro santo no chão do boteco, virava o copo e depois esperava que seus amigos chegassem para acompanhá-lo no carteado. Há anos que aquela rotina se desenrolava, mas naquela manhã o velho Jão parecia diferente.
Parado em frente ao atendente que lhe chamava o nome, seu Jão não ouvia o que ele dizia, nem o enxergava mais: uma mancha negra em sua visão lhe impedia tal sentido e parecia haver algodões lhe tapando os ouvidos. Ele sentia a língua presa e o corpo sem forças para levar as mãos ao braço que lhe começava a doer. Quando pode, abriu a boca e a baba escorreu livre pelos lábios encharcando sua barba por completo. Seus joelhos cederam ao peso de seu corpo e o velho caiu no chão. Morreu. Deixou pro mundo a família de 13 filhos e 27 netos, de quem já não tinha mais notícia alguma. Enterram-no em uma cova para indigentes, e sobre ela a unica coisa que se via era a garrafa de pinga, suas cartas de baralho e o pedaço de madeira em que estava escrito “Seu Jão”.
Andre Barbosa
O desejo por novidade e por conhecer sempre mais sobre o comportamento humano é o que move esse publicitário carioca, que já mora em Porto Alegre há duas décadas.